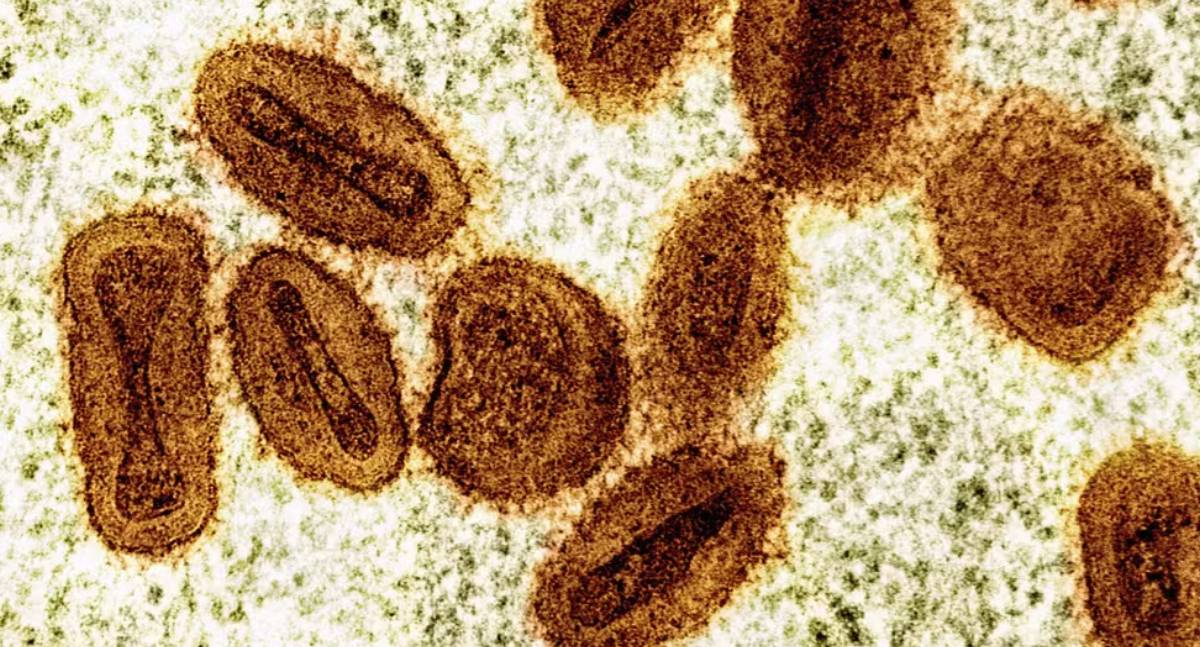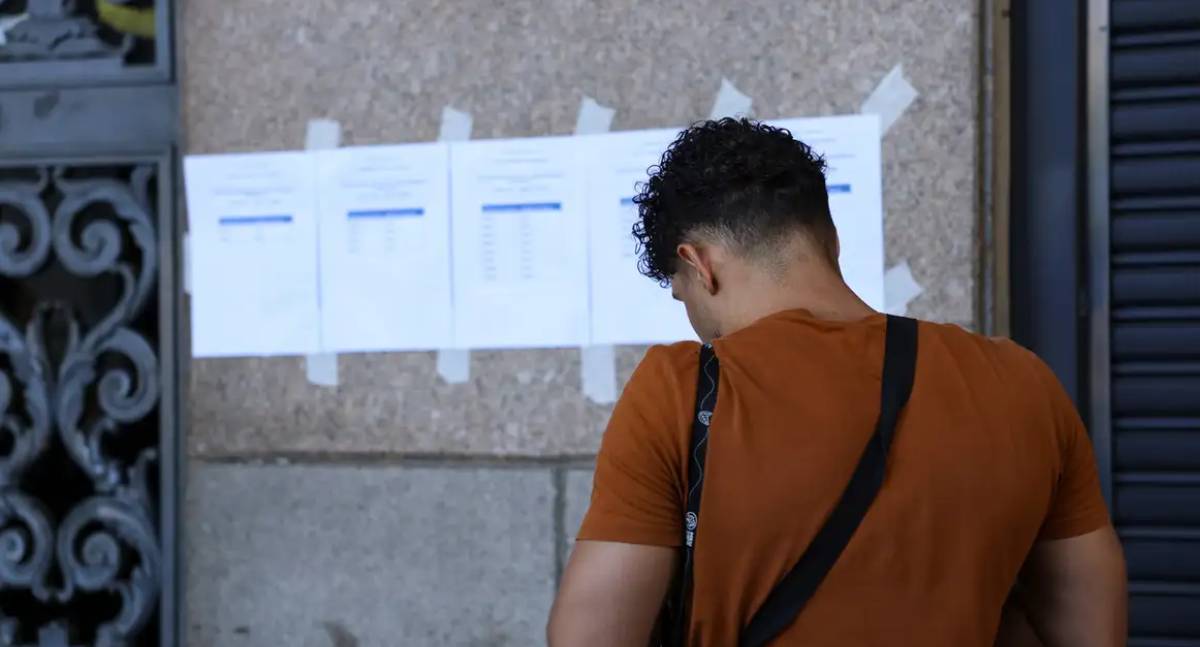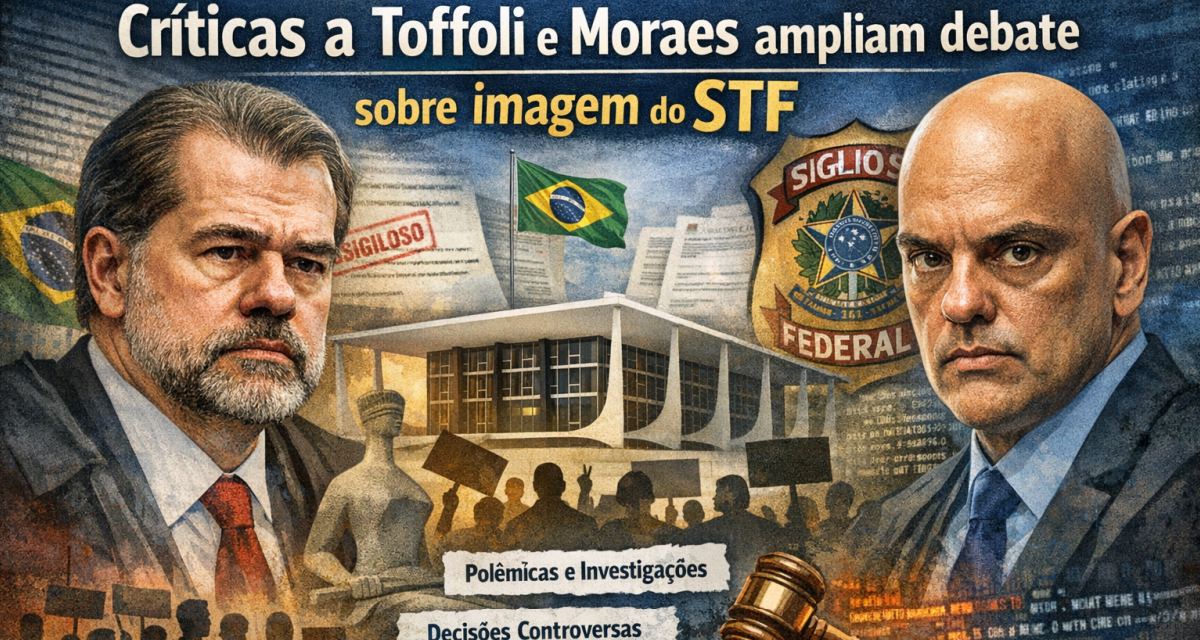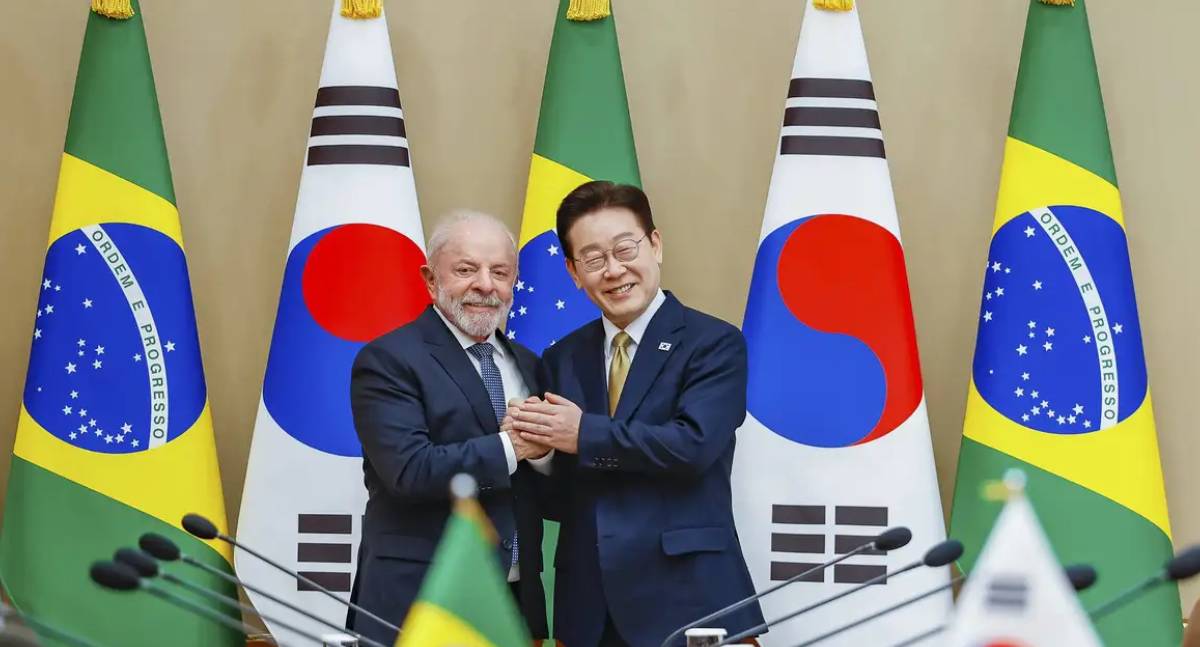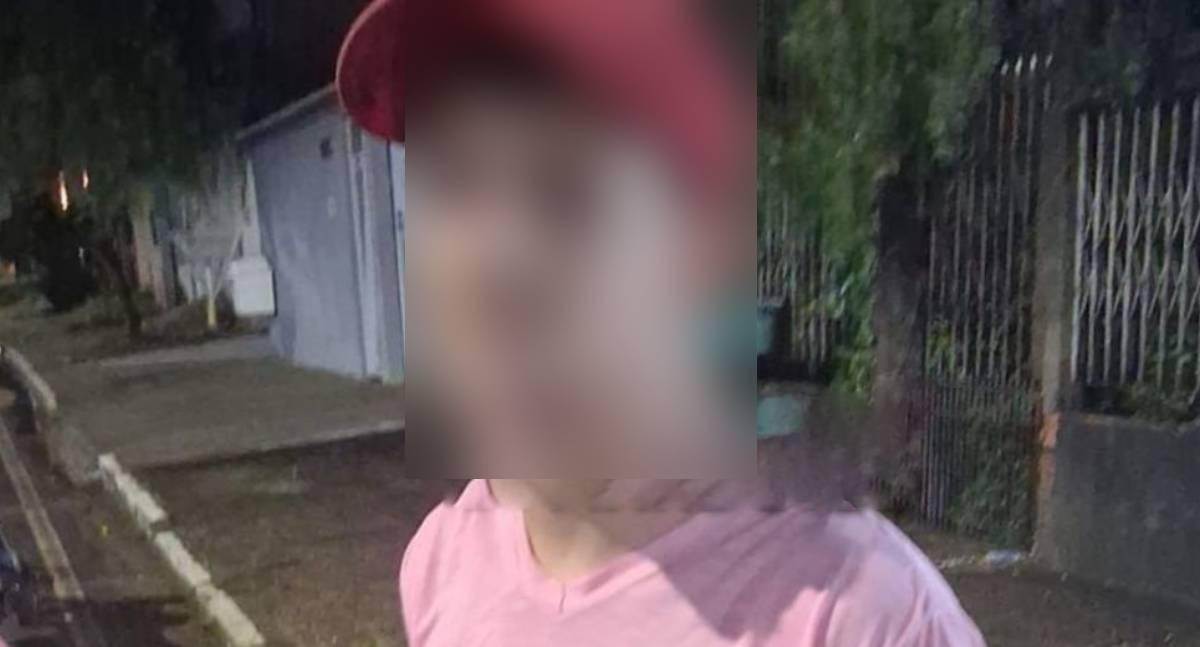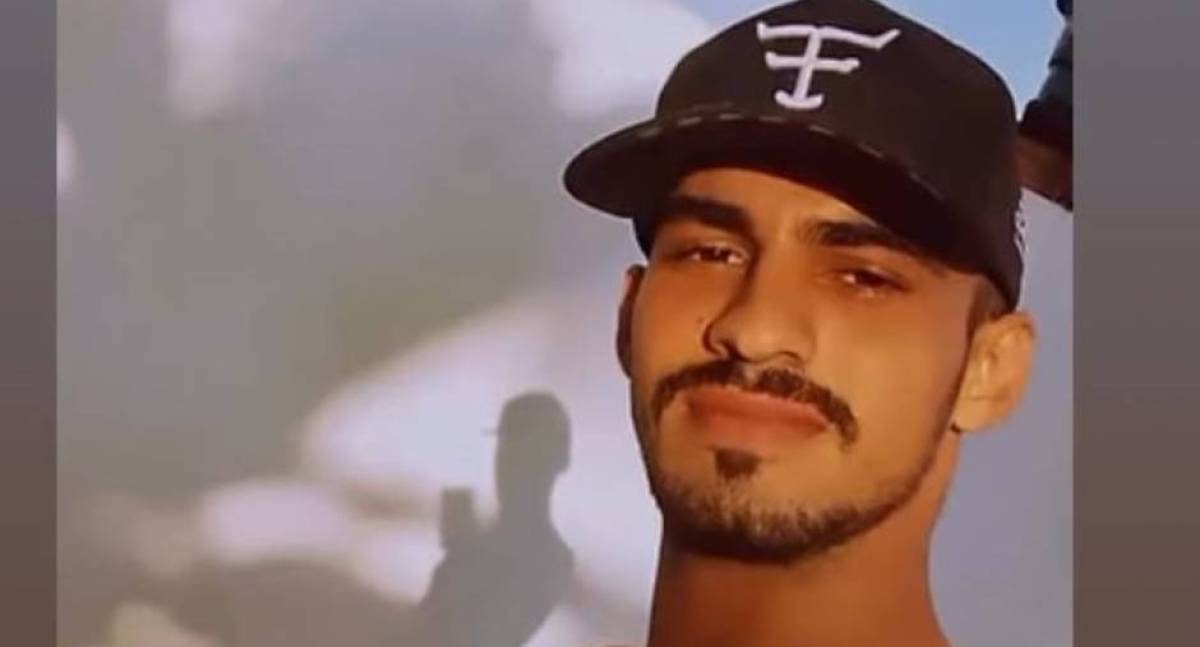O estigma da seca sempre castigou os modos de vida do sertanejo que nunca poupou esforços para sobreviver na região do semiárido nordestino. Ainda cedo pela madrugada, o caboclo da roça se levanta e acompanhado da mulher e dos filhos mais velhos, deixa a velha casa de Taipa, leva um pouco de farinha e um pedaço de rapadura preta, e uma pequena cabaça d’água que fica alojada na sombra do Juazeiro. Sob o sol ardente segura o cabo da chibanca e vai arrancar o “toco” da jurema preta num pedaço de terra arrendado do patrão.
Nas cactáceas da caatinga do sertão
O camponês se apodera da chibanca.[1]
Uma raiz de macambira[2], ele arranca
Para tirar da terra, o seu pão
As feridas que sangram na sua mão
São as marcas de um sertanejo valente
O útero da terra receberá a semente
Mas o rebento morrerá sem germinar
A alma da terra se despede do lugar
No migrar de mais um sobrevivente.
Depois de brocar, começa a rezar e a depositar suas últimas esperanças à espera de uma chuva que venha propiciar o plantio de arroz e feijão, e nada mais do que isso, pois seria a alimentação básica para manter a família de pé e continuar a luta pela vida. O complemento alimentar, a própria caatinga se destinava a oferecer: Teiú (Tiú), preá, camaleão e demais animais de pequeno porte, dos quais o caboclo se enchia de alegria ao saborear a carne.
O sertanejo carrega o pertencimento
No trajeto de sua longa marcha
E ao ser do soldado da borracha
Há uma cisão no seu enraizamento
O tempo apagará o sentimento
Do cambito[3], da ancoreta[4] e do caçuá[5].
Um novo espaço irá metamorfosear
Os modos de vida do sertão
Haverá uma nova apropriação
Nas temporalidades de um novo lugar
Desta forma o homem simples do sertão vai enfrentando os desafios na natureza com suas cotidianas adversidades, e vítima da “indústria da seca”, marcha valentemente chorando as mágoas de um sistema político-econômico caduco e atrofiado, que o condena às margens da sociedade capitalista. Estava assim dada a largada para a grande “marcha para o oeste” do Estado Novo.
O discurso dominante precisava entrar em cada lar, convencendo, iludindo, conquistando e persuadindo famílias inteiras a migrarem para “um novo mundo” que ofereça conforto e dignidade. Persuadidos e convencidos a embrenharem-se no desconhecido, homens, mulheres e crianças estavam agora determinados a prestarem “seu amor” à pátria. Os soldados e as soldadas da borracha não mediram esforços em abraçar a mãe seringueira e extrair dela seu sustento.
O soldado agora é seringueiro
Sem título, sem farda, sem ilusão
A propaganda mentirosa do sertão
Foi apagada sob à luz do candeeiro[6].
Seringueiro, ribeirinho, castanheiro
Construirão uma nova identidade
Nesta sua cotidianidade
Ele viaja em sua heterotopia
Uma transcendental simbologia
Como espaço de sua alteridade
A casa de taipa[7] envelhecida
É a memória que ficou lá no sertão
O pertencer sobrevive na migração
E num cenário “épico” de despedida
O tapiri[8] fará a sua acolhida
Num trato de originalidade
A floresta em sua autenticidade
Herdará um espaço construído
E o tempo impregnado do vivido
Mostrará sua mais nova identidade.
Agora na Amazônia os soldados da borracha iriam deparar-se com a primeira leva de nordestinos ocorrida durante o primeiro ciclo da borracha. Assim como os primeiros migrantes, eles trouxeram para o vale amazônico uma vasta heterogeneidade sócio – linguístico – cultural que honrosamente integrou e engrandeceu de forma intensa e douradora, o notável berço multicultural dos povos da floresta.
[1] Instrumento constituído de uma lâmina, de um lado, e uma ponta semelhante à da picareta, de outro. Muito utilizado antigamente no sertão da Região Nordeste para arrancar tocos de árvores, necessários para preparo da terra destinado ao plantio.
[2] É uma planta popular na Região do sertão do Nordeste brasileiro. Da família das Bromeliáceas, é muito utilizada como alimento, principalmente nos períodos das secas, tanto para as pessoas, como para os animais.
[3] – É um tipo de forquilha de madeira feito em forma de “V”. Geralmente se procura na mata um galho de madeira que se encontra em forma de “V”. É utilizado de forma dupla, colocando-se dois de cada lado do animal, onde por exemplo, se pendura o caçuá.
[4] Barril utilizado para transportar água no sertão do Nordeste. Geralmente se utilizava dois barris no lombo do animal, um de cada lado, pendurado em cambitos. Inicialmente era feito de madeira, com o tempo se passou a utilizar de borracha.
[5] Cesto grande feito de bambu, cipó ou vime. É usado no transporte de alimentos, e utilizado pendurado em cambitos nos lombos dos animais de carga. Utiliza-se dois caçuás, um de cada lado do animal.
[6] Armação de pequeno porte, feita de flandre, onde se armazena combustível. No seu orifício superior é colocado um pavio de algodão, que ao acender, produz uma peculiar luminosidade. No sertão nordestino era bastante utilizado devido à falta de energia elétrica, principalmente nas regiões do semiárido. O candeeiro foi bastante utilizado nos seringais amazônicos. O seringueiro colocava-o numa armação de flandre maior, denominada poronga, e saia pela madrugada para fazer o corte de seringa. A luminosidade servia tanto para iluminar a estrada de seringa, como também para fazer o corte e embutir as tigelinhas na seringueira.
[7] Casa construída de paredes de barro amassado para preencher os espaços vazios entre as armaduras feitas de varas amarradas com cipós.
[8] Casa do seringueiro. Pequena barraca coberta de palha. As paredes e o assoalho eram feitos de uma palmeira regional denominada Paxiuba. Existia na colocação, o lugar do seringueiro, outro tipo de tapiri, este era de menor proporção, construído próximo à casa do seringueiro, e destinado ao processo de defumação da borracha para ser transformado numa espécie de bola, ou péla, uma denominação dada pelo seringueiro.