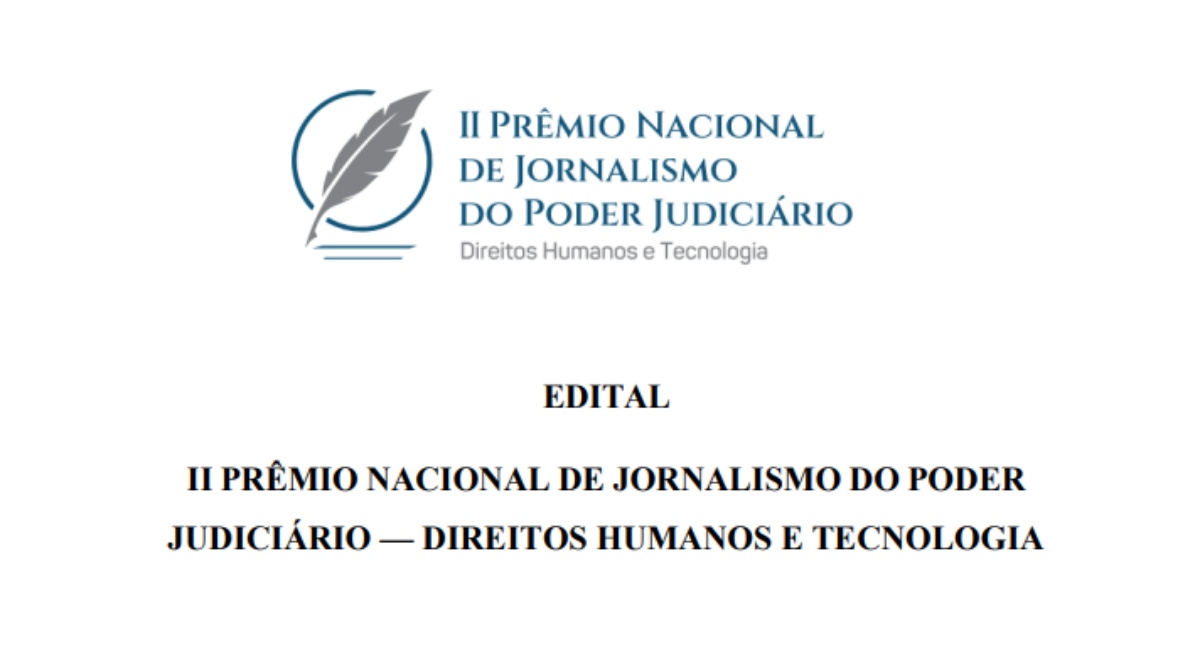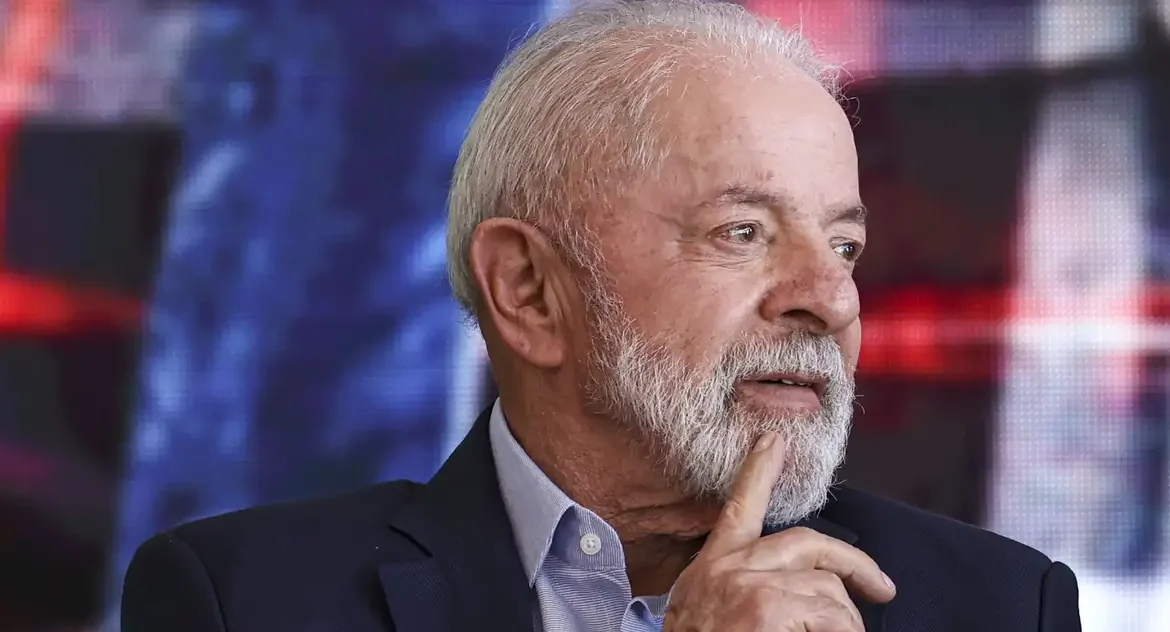Vivemos na era da incessante busca por engajamento. Likes, cliques, visualizações – números que, para muitos, se tornaram a métrica absoluta da relevância. O problema? A qualidade do jornalismo passou a ser medida por essa régua fria e superficial. E, nessa corrida desenfreada pela atenção do público, limites éticos são ultrapassados. Tragédias são transformadas em espetáculo, e o sofrimento alheio se torna um produto barato exposto na vitrine digital.
É revoltante perceber como, em nome da audiência, eventos trágicos são reportados de maneira sensacionalista, reduzindo vidas a meros enredos dramáticos. Desastres, mortes, calamidades – tudo serve de combustível para alimentar o ciclo vicioso do consumo imediato de informações. Pior ainda, detalhes íntimos das vítimas são escancarados sem pudor, como se a privacidade e a dor fossem um preço justo a se pagar por alguns segundos de atenção.
O que deveria ser tratado com empatia e respeito se torna manchete chamativa. E, enquanto a audiência se compadece momentaneamente, os familiares e amigos das vítimas são obrigados a lidar com uma exposição pública cruel. Ninguém pergunta se eles querem que aquela dor seja compartilhada. Ninguém reflete sobre o impacto psicológico de ver a história de um ente querido reduzida a um clique.
Existe uma linha tênue entre informar e explorar. Informar é um compromisso com a verdade, é contextualizar os fatos, é trazer luz a temas relevantes sem perder a ética. Explorar é violar a dignidade alheia, é transformar a infelicidade em mercadoria, é alimentar a máquina do engajamento a qualquer custo.
O jornalismo precisa resgatar seu papel fundamental: ser um canal de informação, reflexão e humanidade. O público, por sua vez, deve questionar o tipo de conteúdo que consome e compartilha. Afinal, se a audiência impulsiona esse ciclo, também pode ser responsável por quebrá-lo. No fim das contas, a pergunta que fica é: até quando a dor do outro será tratada como entretenimento?